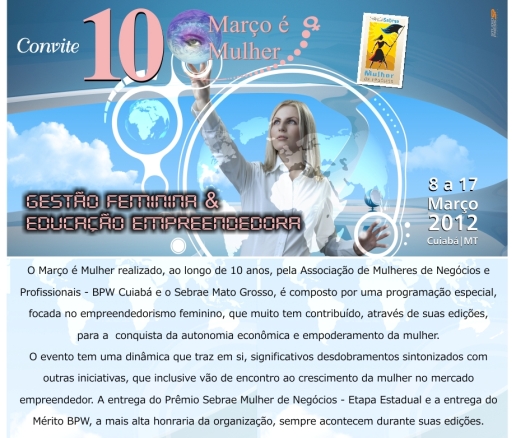Por Liliane Coelho
Manoel de Barros escreveu, certa vez, sobre um menino que teimava em carregar água na peneira. Inconformada, sua mãe dizia que era como “roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos”. O mesmo que “criar peixes no bolso” ou “catar espinhos na água”. Mesmo assim, ele insistia em fazer o que fazia. Era considerado esquisito, até aprender a usar as palavras. Com elas, era capaz de fazer “até pedra virar flor”. É que o menino aprendeu a se divertir com a escrita e, por causa disso, inventou um mundo todo seu. Nele, era livre para viver seus “despropósitos” até que sua mãe entendeu: o menino era um poeta.
Ler sobre esse garoto, que devia ser o próprio autor, me fez pensar que todos nós carregamos água em peneira de vez em quando. Sempre haverá alguma coisa na qual só nós acreditamos. Algo que só nós vemos. Uma esperança que só nós temos.
Começamos a acreditar muito cedo, mas, infelizmente, vamos desaprendendo. Deixando para trás a pureza de “crer para ver” e exigindo que a vida sempre nos traga provas antes de acreditar.
Quando eu era criança, queria encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Tinha certeza de que, se eu caminhasse na direção certa, não apenas o encontraria, como seria capaz de conversar com o duende. Eu pensava que, se meu coração fosse bom, ele entregaria todas as moedas para mim e eu voltaria para casa feliz.
Não sei quando, nem porque, mas um dia entendi que meu anjo da guarda não sentia fome; que Papai Noel não viria todos os anos e que o mundo não era exatamente aquele lugar bonito que Dorothy encontrou no filme “O mágico de Oz”. Haveria mais furacões do que flores. Mais realidade do que canções. Mais encruzilhadas do que caminhos feitos de tijolos dourados.
Aprendi, então, que devia ser mais formiga do que cigarra; que era loucura perseguir moinhos e que pessoas bem-sucedidas sempre tinham os pés no chão. Aprendi a adormecer muito do que havia em mim. Até que me tornei mãe.
Ganhei uma garotinha invocada, senhora de dons incríveis, como uma grande habilidade para negociar e muita clareza do que precisa. Ela tem apenas três anos. A mesma idade que eu tinha quando fugia de casa para lavar os cabelos na enxurrada; atravessava a rua para mergulhar em um pote cheio de balas; sequestrava cigarras para entender como faziam para cantar; desenterrava cenouras para não vê-las sofrer; inundava formigueiros na tentativa de criar rios; prendia grilos em caixas de fósforos para que tivessem um lugar para dormir…
Desaprendi tudo isso e, aos 15 anos, já tinha meu primeiro emprego. Aos 18, vários planos para a carreira. Aos 20 e poucos, um carro para dirigir. Aos 30, uma casa para deixar tudo de ruim do lado de fora.
Eu não era mais a menina que tomava água do rio enrolada em um copo de folhas. Não tinha tempo para pescar, nem para escovar as crinas dos cavalos ou para assistir aos patinhos nascendo. Já não tinha tempo para ver. Só para fazer, esperando chegar a algum lugar onde diziam, devia ser bom.
Mas, para minha sorte, ver minha filha crescendo, está me ajudando a acordar a garotinha que eu fui. Por causa disso, a gente faz piquenique na praia, sem sair da sala; entramos no carro e atravessamos cavernas; contamos estrelas e escolhemos a mais bonita para ser o meu pai.
Por causa disso, fico feliz quando ela acorda dizendo que é bailarina, borboleta ou cowboy e, muitas vezes, decide: “- Não sou nada disso, só Maya”. Digo que não importa o que ela seja, estaremos sempre juntas e combino que vamos nos encontrar até nos sonhos. Quando ela acorda, pergunto: “- E, aí? Sonhou fadas?”. Ela vira de costas respondendo que não, porque não ganhou asas. Então, eu digo: “- Não tem problema! Vamos tentar de novo hoje à noite! ”. E, quando ela dorme, escrevo. E, por causa disso, me aproximo mais de mim e daquele menino. É que nós dois gostamos de preencher os vazios do mundo com a escrita. Mesmo que, para alguns, isso pareça um desperdício.