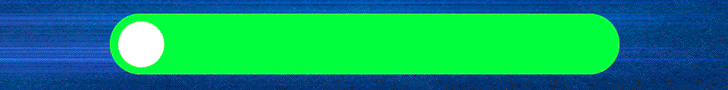Em 2007, o jovem Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook estava abrindo suas portas: o Facebook não seria mais um produto de software fechado como todas as outras redes sociais. Ao contrário, se tornaria uma plataforma aberta e convidaria desenvolvedores de fora para criar aplicativos e, inclusive, programas. “Queremos tornar o Facebook uma espécie de sistema operacional”, afirmou Zuckerberg.
Na época, o anúncio não chamou muito a atenção fora do universo da programação. Os desenvolvedores começaram a trabalhar na criação de aplicativos que se conectavam com o Facebook – entre os primeiros sucessos, está o “Rendezbook”, um tipo de proto-Tinder que permitia que os usuários entrassem em contato uns com os outros para “aventuras ocasionais”, e o CampusRank, que permitia que estudantes universitários mencionassem o nome de seus pares para premiações. Posteriormente, surgiram jogos populares, como FarmVille, e aplicativos como Tinder e Spotify pelos quais os usuários se conectavam usando suas credenciais do Facebook.
De certo modo, foi uma solução razoável. O Facebook penetraria mais fundo nos hábitos de internet dos usuários, e os desenvolvedores de fora tiveram acesso a uma grande audiência e a dados valiosos. Os usuários não ficaram muito preocupados. Evidentemente, estes aplicativos coletavam dados sobre a sua vida. Mas, na realidade, o que poderia haver de errado?
Hoje, as consequências são claras. A Cambridge Analytica, uma empresa britânica de consultoria, adquiriu indevidamente as informações pessoais de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook e os usou para visar eleitores em favor da campanha de Trump durante as eleições presidenciais de 2016. Tecnicamente, não se tratava de penetrar em dados sigilosos, porque esta quantidade de informações não foi roubada dos servidores do Facebook. Ao contrário, foi distribuída gratuitamente ao criador de um aplicativo de teste de personalidade do Facebook, chamado “thisisyourdigitallife”.